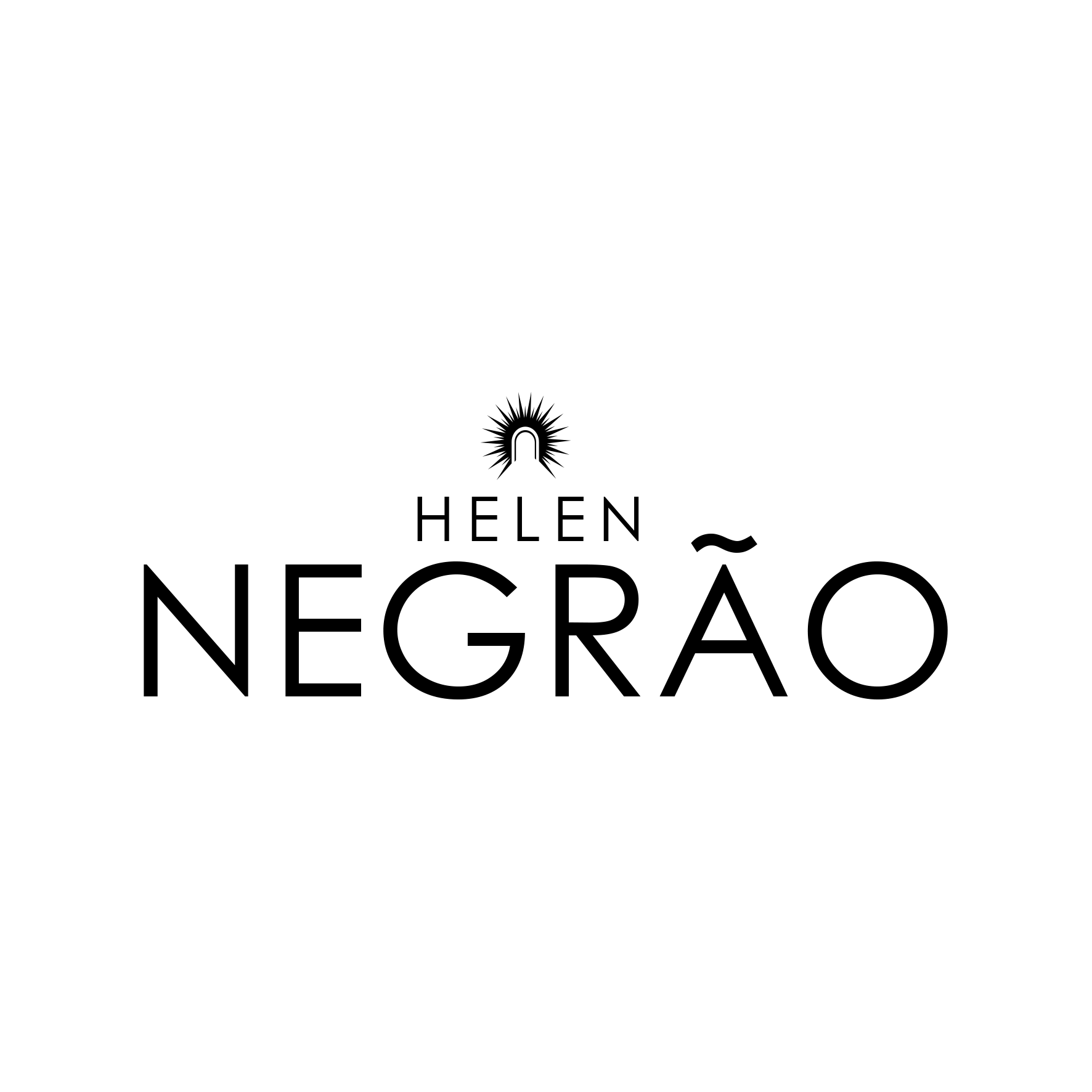Viajar para a Índia era um sonho de infância, antigo, desses que se formam muito antes de a gente ter palavras para explicar. Começou quando li Autobiografia de um Iogue ainda criança. Eu não compreendia tudo, mas isso nunca foi um problema. O que me marcou não foram explicações racionais, e sim os relatos de êxtase, de amor, de estados de consciência que pareciam inalcançáveis e ainda assim, falavam forte dentro de mim. Santos e santas que viviam numa entrega tão profunda que transbordava alegria, presença e compaixão. Aquilo me impressionou profundamente. Mas havia algo mais ali, mesmo que eu só fosse perceber depois: esses estados não vinham de graça. Eles exigiam anos de disciplina, silêncio, treino da mente, do corpo e das emoções. Êxtase não era fuga. Amor não era descontrole. Tudo passava por autodomínio.
Meu sonho, então, não era apenas conhecer um país. Era, quem sabe um dia, estar na presença de alguém assim. Acreditava que esse encontro poderia me transformar, como se algo se reorganizasse por dentro apenas por proximidade. Existia ali uma expectativa silenciosa de que a experiência certa, no lugar certo, com as pessoas certas, produziria em mim algo definitivo.
Anos depois, a viagem aconteceu de forma quase mágica e inesperada. Recebi o convite para participar do Kerala Blog Express, duas semanas cruzando o sul da Índia, num ônibus confortável, com pessoas do mundo todo, atravessando cidades, vilarejos, paisagens intensas, florestas, ilhas, templos, hotéis luxuosos e regiões de extrema simplicidade. Eu fui. Estive lá. Vivi aquilo que por muito tempo chamei de sonho.
Ao longo da viagem, foi ficando clara para mim a diferença entre a forma como grande parte do Ocidente se relaciona com o presente e como muitos indianos ainda o habitam. Enquanto ali a vida parecia acontecer no agora, nós, ocidentais, parecíamos estranhamente conectados e desconectados ao mesmo tempo. Conectados às câmeras, às narrativas, à necessidade de registrar. Desconectados do que de fato estava acontecendo.
Passei a viagem inteira com a sensação de que a minha vida tinha virado um filme, e de que a maior parte de nós estava sonhando acordada. As câmeras se ligavam, os sorrisos apareciam, as frases prontas eram ditas. Quando as câmeras desligavam, os rostos fechavam. Surgiam o cansaço, a irritação, a impaciência. Havia pouca presença. Pairava no ar uma ansiedade constante, como se tudo precisasse ser vivido rápido demais para não se perder nada e, justamente por isso, quase nada fosse realmente vivido.
As coisas aconteciam numa velocidade que não permitia experiência. Não havia tempo para sentir, para deixar algo descer, para permitir que aquilo encontrasse um lugar dentro do corpo. Era sempre o próximo deslocamento, o próximo hotel, a próxima foto. O mundo passava rápido demais pelos olhos, e o corpo ficava para trás tentando acompanhar.
Dentro de mim, tudo também acontecia na velocidade da luz. A variedade de sotaques do inglês, as paisagens que mudavam o tempo todo, as pessoas, os templos tão diferentes de tudo o que eu já tinha visto em toda a minha vida, as arquiteturas, os pássaros que nunca tinha visto na vida, os olhares sorridentes do povo indiano, o caos do trânsito, a variedade de sabores e aromas, o luxo convivendo com a simplicidade extrema. Tudo me atravessava ao mesmo tempo. Eu absorvia, mas não conseguia nomear. Me faltava, e ainda me falta, linguagem. À noite, quando dormia, meu cérebro parecia repassar tudo o que eu havia visto durante o dia, como se eu estivesse sempre ligada numa tomada 220.
Antes dessa viagem, outras escolhas da minha vida já tinham sido guiadas por essa mesma lógica. Quando cursei Relações Internacionais, foi porque imaginava uma vida viajando pelo mundo, circulando entre países, culturas, experiências. Parecia um grande sonho a ser vivido. Tudo fazia sentido dentro dessa narrativa de movimento, descoberta e expansão.
Foi justamente na Índia, minha primeira viagem internacional, no meio dessa experiência tão desejada, que algo começou a se esvaziar. Não como frustração imediata, mas como percepção. Eu estava vivendo algo que sempre quis e, ainda assim, havia um silêncio estranho por dentro. Um vazio que não combinava com o cenário, com a história, com o privilégio daquela vivência.
Ali, pela primeira vez, algo se organizou com clareza: a diferença entre ter experiências e se tornar alguém capaz de sustentar a presença. Eu tinha a viagem, tinha a experiência, tinha a história para contar. Mas aquilo não estava formando em mim o tipo de estrutura interna que os relatos do livro descreviam. Os estados que eu admirava quando criança não vinham do acúmulo de vivências, nem da intensidade das experiências, mas de uma vida inteira dedicada ao autodomínio.
Lembro de uma manhã, num pequeno hotel em uma ilha, quando conversei com um professor de ioga muito discreto. Ele me disse, com certa tristeza, que ficava chateado ao ver as pessoas acreditando que yoga era comprar um tapete, vestir uma camiseta indiana, fazer poses e tirar fotos. Disse que yoga não era nada daquilo. Yoga era o que estávamos fazendo ali, naquele momento: estar presentes. Foi como encontrar alguém que estava acordado e sabia disso. Encontrei outras pessoas assim na viagem, mas elas não falavam sobre isso, apenas viviam.
Voltei da Índia transformada, mas não da forma que eu imaginava quando era mais jovem. Não houve iluminação repentina, nem revelação espetacular. Houve algo mais silencioso e, talvez por isso, mais profundo: uma decisão. Meu sonho deixou de ser conhecer o mundo inteiro. Não porque o mundo tenha perdido valor, mas porque compreendi que nenhuma paisagem produz, sozinha, os estados de amor e consciência que eu admirava nos livros. Ainda pretendo conhecer lugares menos visitados, paisagens onde a vida acontece fora do espetáculo, mas isso já não ocupa mais o lugar de sonho.
Meu sonho passou a ser outro: construir uma rotina de vida capaz de sustentar, aos poucos, mais presença, mais estabilidade, mais consciência. Não buscar êxtase como experiência, mas permitir que estados mais profundos surjam como consequência de uma vida organizada. Acordar todos os dias em paz com a vida que tenho. Realizar meus projetos de vida pouco a pouco, sem jamais me confundir novamente entre ter para ser, algo especialmente difícil para quem vive no Ocidente, onde o valor de uma pessoa é medido pelas coisas que possui, pelos títulos, pelo sucesso, pelo dinheiro que tem.
Talvez seja por isso que tantas pessoas realizem sonhos e, ainda assim, se sintam vazias depois. Não porque sonharam errado, mas porque confundiram sonho com experiência. Os estados que mais nos tocam não se compram, não se visitam, não se acumulam. Eles exigem presença. Exigem alguém capaz de permanecer.
Esse foi o vazio que encontrei.
E foi ele que me mostrou que o sonho que eu buscava desde a infância não terminava quando a viagem acabava, ele começava quando eu voltava para casa.
É como diz a minha filósofa brasileira favorita, Lúcia Helena Galvão: projeto é do ter. Sonho é do ser.